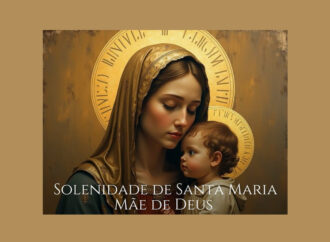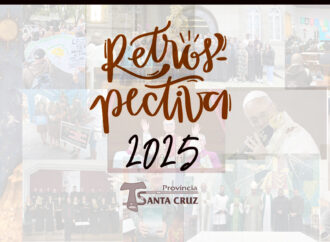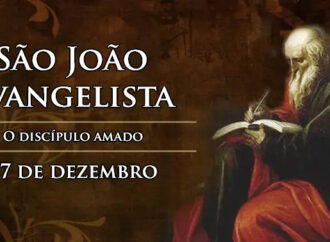A Amazônia não é um território a ser explorado, mas uma mãe a ser defendida.
Frei Laércio Jorge ofm [1]
A barqueata pela vida, realizada como parte das atividades da COP30, reuniu lideranças indígenas, o Cacique Raoni, representantes do MTST, Fiocruz, CIMI, frades franciscanos e diversas organizações populares e socioambientais.
Belém, 12 de novembro de 2025 – Enquanto os corredores climatizados dos hangares dos chefes de Estados e suas comitivas, empresários e tantos outros ecoavam com as negociações formais entre nações na COP30 em Belém, as águas barrentas do Rio Guamá, na manhã desta quarta-feira, foram palco de um protesto visceral e simbólico.
A “Barqueata”, uma frota de embarcações que reuniu indígenas, sem-teto, cientistas, religiosos e ativistas, conduzindo-os para as águas amazônicas para ouvir o grito que atravessa os movimentos sociais:
a crise climática exige ações radicais, e a solução não virá de cima para baixo, mas das populações que defendem os territórios.
Com faixas e cartazes que denunciavam os impactos do extrativismo predatório e do avanço do agronegócio sobre os biomas brasileiros, a barqueata se tornou um ato simbólico e político. Liderando a frente da frota, com seu cocar de penas amarelas e o emblemático labiô (adorno labial), estava o Cacique Raoni Metuktire, aos 95 anos. Em suas palavras, reforçou que “a Terra está cansada, e o branco precisa ouvir os que cuidam dela há milênios”. Sua presença, um testemunho vivo de décadas de luta, conferiu um peso histórico ao ato. Ao seu lado, bandeiras do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), dos Frades Menores Franciscanos e de tantos outros, balançavam ao vento úmido, simbolizando uma convergência inédita de lutas aparentemente distintas, mas unidas pela mesma causa: a defesa da vida.
Os gritos de ordem que ecoavam dos barcos formavam um manifesto contra o modelo de desenvolvimento hegemônico. “Ferrogrão NÃO!” e “Extração de Petróleo na foz do rio Amazonas, NÃO!” direcionavam o debate para os megaprojetos que ameaçam fraturar ecossistemas e comunidades. Já o brado “O AGRONEGÓCIO não enche prato, não coloca comida na mesa!” desmontava a narrativa de que o agronegócio é sinônimo de segurança alimentar, contrapondo-o com a agricultura familiar e os modos de vida tradicionais que, de fato, alimentam o país. Essas vozes sintetizam um diagnóstico sociológico e ecológico profundo:
a crise climática é também uma crise civilizatória, fruto de um modelo de desenvolvimento que transforma a natureza em mercadoria e ignora o saber ancestral dos povos que dela dependem.
“Nós não estamos no território, nós somos o território!” Esta talvez seja a frase que melhor encapsula a dimensão sociológica do protesto. Mais do que uma ocupação geográfica, o território foi apresentado como uma extensão do corpo, da cultura e da existência dos povos. A separação sujeito-natureza, base do pensamento ocidental moderno, é aqui dissolvida. “Quem defende o rio, defende a Vida!” é a consequência lógica dessa cosmovisão. O rio não é um recurso hídrico, é a veia que pulsa e sustenta toda uma rede de existências.
A mensagem “Sem folha não tem vida!”, ecoada pelos indígenas, remete ao conhecimento ancestral sobre a interdependência dos ecossistemas.
A floresta em pé, com sua biodiversidade, não é um estoque de recursos a ser explorado, mas a condição fundamental para a regulação do clima e a própria sobrevivência planetária.
Neste contexto, a presença da Fiocruz não é acidental: evidencia a ligação direta entre o desmatamento, a crise climática e o surgimento de novas pandemias, uma vez que a degradação ambiental força o contato entre humanos e patógenos até então confinados.
A reflexão central – “A resposta para a situação climática no mundo, somos nós!” – funciona como um contraponto ao tecnocentrismo e à lentidão das diplomacias estatais. É a reivindicação de que a justiça climática será conquistada pela pressão popular, pela organização dos que estão na linha de frente.
A barqueata não apenas abriu espaço para a denúncia, mas também para o anúncio de um outro modo de existir, onde a economia e a política se fazem em comunhão com a Casa Comum — expressão que ressoou fortemente no segundo grande momento do dia: a abertura oficial do espaço da sociedade civil na COP30. O evento foi marcado pelo lançamento da Revista CASA COMUM, uma publicação que busca amplificar as vozes dissidentes e os saberes tradicionais no debate climático.
A revista se propõe a ser um farol intelectual para as alternativas que estão sendo construídas desde as bases, reforçando a ideia de que a verdadeira inovação para enfrentar o colapso ambiental já existe, mas precisa ser ouvida e priorizada, reafirmando a urgência de uma nova ética planetária baseada no cuidado e na corresponsabilidade.
O encontro de hoje, nas águas e na universidade, reafirma que a Amazônia não é um território a ser explorado, mas uma mãe a ser defendida. Os movimentos presentes deixaram claro que o enfrentamento da crise climática não virá apenas de acordos diplomáticos, mas do compromisso coletivo de quem se reconhece como parte da Terra:
“Nós não estamos no território, nós somos o território.”
A mensagem da barqueata ecoa para além de Belém — enquanto a COP30 oficial segue sua agenda, a barqueata e o lançamento da revista “CASA COMUM” deixam claro que há duas forças em jogo na capital paraense: a dos que negociam o planeta como uma commodity e a dos que o defendem como um lar comum, indivisível e vivo. E esta última, cada vez mais unida, não aceitará mais promessas vazias diante de um sistema que insiste em colocar o lucro acima da vida.
[1] Frei Laércio Jorge, OFM. Graduado em Filosofia e Teologia pelo Instituto Santo Tomás de Aquino. Mestre em Ciências Sociais pela PUC-MG.