A afirmação paulina “Nossa glória é a cruz, onde nos salvou Jesus” (Gl 6,14) encerra um dos maiores paradoxos do cristianismo: o sofrimento como caminho de redenção.
Frei Laércio Jorge de Oliveira, OFM
A afirmação paulina “Nossa glória é a cruz, onde nos salvou Jesus” (Gl 6,14) encerra um dos maiores paradoxos do cristianismo: o sofrimento como caminho de redenção. Filosoficamente, esse paradoxo desafia a razão instrumental moderna, que busca eliminar a dor em nome do progresso e do prazer. A cruz, enquanto símbolo máximo do amor sacrificial (ágape), subverte a lógica do poder mundano, como bem destacou Nietzsche em sua crítica ao cristianismo como “moral dos escravos” (Genealogia da Moral, 1887). No entanto, longe de ser mera resignação passiva, a teologia cristã clássica (em Agostinho, Tomás de Aquino e, mais tarde, em Kierkegaard) vê na cruz a suprema expressão de um Deus que se esvazia (kenosis, Fl 2,7) para elevar o humano.
Sociologicamente, a cruz também opera como um símbolo de identidade coletiva para comunidades cristãs perseguidas (como no martírio dos primeiros séculos) ou oprimidas (como nas teologias da libertação). Porém, na pós-modernidade, esse símbolo é ressignificado – ou mesmo esvaziado – em favor de uma espiritualidade que privilegia o bem-estar individual sobre o compromisso comunitário e sacrificial.
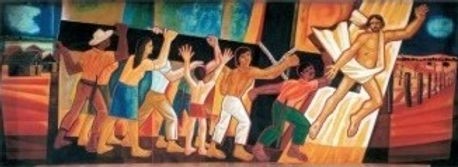
A modernidade tardia, marcada pelo que Charles Taylor chamou de “era secular” (A Secular Age, 2007), testemunha uma transformação na experiência religiosa: a fé torna-se cada vez mais voltada para a autorrealização e menos baseada na renúncia. A cruz, para São Paulo, é “escândalo para os judeus e loucura para os gentios” (1Cor 1,23). Filosoficamente, ela desafia a lógica do poder e da autossuficiência. Kierkegaard, em O Desespero Humano (1849), via na cruz o ápice do paradoxo divino: Deus que se faz fraco para revelar a verdadeira força.
Nesse contexto, a cruz é muitas vezes reduzida a um ícone decorativo ou a uma metáfora de superação pessoal, perdendo seu caráter radical de confronto com o mal estrutural e pessoal. Essa ideia se torna mais evidente na proliferação de pregações que enfatizam a prosperidade e omitem a cruz, substituindo-a por promessas de triunfo material. O sofrimento é visto como mal a ser evitado, não como caminho de transformação.
A socióloga Eva Illouz (Salvation of the Modern Soul, 2008) argumenta que a cultura pós-moderna busca religiões “sob medida”, “light” (com redução da fé a experiências emocionais (ex.: cultos focados em “milagres” sem exigência ética)), ou cada vez mais “mística-individualista” (na busca de um Jesus desconectado da Igreja e da comunidade (ex.: espiritualidades New Age que reinterpretam Cristo como “mestre cósmico”) e por fim com uma “moral seletiva” (onde há aceitação de valores cristãos apenas quando compatíveis com o conforto (ex.: rejeição a ensinamentos sociais da Igreja, como a opção pelos pobres). Em síntese temos hoje uma religião onde o sagrado é consumido como produto de bem-estar. A cruz, nesse contexto, é inconveniente: lembra finitude, dor e compromisso radical.
Se, por um lado, a sociedade pós-moderna rejeita a cruz por sua associação com a dor, por outro, movimentos cristãos como os mártires do século XX, Dietrich Bonhoeffer ou Oscar Romero, reafirmam seu poder subversivo. A cruz, nessa perspectiva, não é apenas sofrimento passivo, mas ato político de solidariedade com os marginalizados (Mt 25,40). A teologia de Jürgen Moltmann (O Deus Crucificado, 1972) vai além, propondo que a cruz revela um Deus que sofre com a humanidade, desafiando as teologias triunfalistas.
A teologia da libertação (Gustavo Gutiérrez, Teologia da Libertação, 1971) e pensadores como Dietrich Bonhoeffer (O Custo do Discipulado, 1937) reafirmam a cruz como lugar de solidariedade com os crucificados da história. Aqui, a espiritualidade cristã recupera seu caráter político: a cruz não é apenas sofrimento passivo, mas denúncia das estruturas de opressão (Mt 25,40), como em comunidades de Base na América Latina, que vinculam a cruz à luta por justiça, ou santos como Oscar Romero, que encarnaram a “dor amorosa” do Evangelho.
É preciso reconciliar Cruz e Glória. A tensão entre uma espiritualidade da cruz e uma espiritualidade da glória sem dor reflete um conflito mais profundo: a relação entre fé e cultura. Se a pós-modernidade busca um cristianismo adaptado ao consumo, a tradição cristã insiste que a verdadeira glória só se alcança através do amor que “tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta” (1Cor 13,7). Recuperar a cruz não significa romantizar o sofrimento, mas sim reconhecer que, num mundo marcado pela injustiça e pela superficialidade, o seguimento de Cristo exige engajamento corpóreo e comunitário – algo que vai muito além de uma fé confortável e individualista.
A cruz permanece como lugar teológico onde o humano e o divino se encontram na vulnerabilidade. Negá-la é esvaziar o cristianismo de seu potencial transformador. Como escreveu Teilhard de Chardin: “Tudo o que sobe, converge” – inclusive a dor, quando assumida por amor. A espiritualidade autêntica não foge da cruz, mas, como Maria aos pés do Calvário (Jo 19,25), permanece nela até a ressurreição.
- Como viver uma espiritualidade da cruz em uma sociedade que idolatra o conforto e o sucesso imediato?
Bibliografia:
BÍBLIA SAGRADA (João, Gálatas, Filipenses, Romanos,1Coríntios).
BONHOEFFER, D. O Custo do Discipulado. 1937.
GUTIÉRREZ, G. Teologia da Libertação. 1971.
ILLOUZ, E. Saving the Modern Soul. 2008.
KIERKEGAARD, S. O Desespero Humano. 1849.
MOLTMANN, J. O Deus Crucificado. 1972.
NIETZSCHE, F. Genealogia da Moral. 1887.
TAYLOR, C. A Secular Age. 2007.







