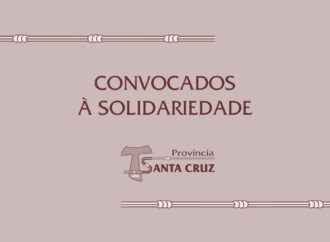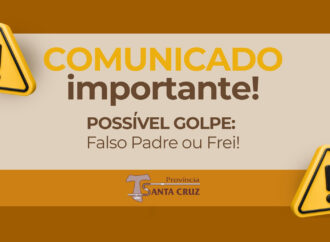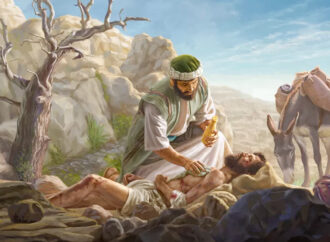A nossa ancestralidade que perpassa dentro da religiosidade, da musicalidade, da culinária, da cultura, da arte e dos ritmos, são expressões vivas e importantes na construção de um povo.
Frei Carlos Alexandre Lima, OFM
O mês de novembro é marcado por diversas manifestações que demarcam a presença do povo negro em nosso país. A nossa ancestralidade que perpassa dentro da religiosidade, da musicalidade, da culinária, da cultura, da arte e dos ritmos, são expressões vivas e importantes na construção de um povo.
Na construção de nossa história, diversas foram as maneiras utilizadas para que a população negra fosse “eliminada”, em sua existência e nas suas expressões.
“Em nosso país, a elite dominante sempre desenvolveu esforços para evitar ou impedir que o negro brasileiro, após a chamada abolição, pudesse assumir as raízes étnicas, históricas e culturais, dessa forma seccionando-o do seu trono familial africano”.[1]
Enaltecer o Novembro Negro é ainda resistir, em tempos que os açoites cobrem os nossos corpos, de outras tantas vertentes. Que muitas vezes, impedem os acessos a uma vida digna, tendo seus direitos constitucionais não garantidos: a saúde, a educação, a moradia, a alimentação e o transporte. Em nosso Brasil, ainda é perceptível o nível da desigualdade que nos assolam. Por isso, é nítido que em áreas geográficas periféricas tende a haver uma alta concentração de pessoas pretas, que originam as favelas, comunidades que podemos descrever como “quilombos urbanos”.
No livro Quarto de Despejo – Diário de uma favelada, de Carolina Maria de Jesus (1960), a autora já retratava o quanto era difícil a vida de uma mulher negra e solo num ambiente familiar e hostil.
“8 de agosto…morreu um menino aqui na favela. O Sepultamento foi as 9h. os negros que iam acompanhar o extinto alugaram um caminhão e levaram violão, pandeiro e pinga. O Zirico dizia: Japonês quando morre os vivos cantam. Então vamos cantar também. A pior praga da favela atualmente são os ladrões. Roubam a noite e dormem durante o dia. Se eu fosse homem não deixava os meus filhos residir nesta espelunca. Se Deus auxiliar-me hei de sair daqui, e não hei de olhar para trás”.[2]
É perceptível no relato da autora a dor existencial que a mesma padece por ter seus filhos sendo criados neste lugar. A condição de gênero, em que cabe a ela, uma mulher dar todas as garantias de “sobrevivência” a dignidade dos filhos. A sua condição retratada não mudou em quase nada para muitas mulheres pretas e solos nas periferias de nossas cidades. Aja vista, a violência brutal que os corpos negros ainda sofrem em no nosso cotidiano.
A pensadora Djamila Ribeiro, em seu livro Pequeno Manual Antirracista (2019), aponta o alto índice de violência que a população negra sofre no Brasil. “Os negros representam 55,8% da população brasileira e são 71,5% das pessoas assassinadas” (p.94). Assim sendo, segundo os dados oficiais da Anistia Internacional, a cada 23 minutos um jovem negro é brutalmente assassinado no Brasil, o que deixa nítido que existe um processo de genocídio da população negra brasileira, seja no “abatimento” de seus corpos ou no encarceramento em massa.
De acordo com a filosofa Sueli Carneiro:
“Os mecanismos de controle social dessa massa para qual não há projeto de inclusão irão se inscrever no âmbito das tecnologias oriundas do biopoder por meio dos quais o Estado exercitará o seu direito de matar ou de “deixar morrer”.[3]
É o que o filósofo camoranês Achille Mbembe irá definir como necropolítica: quando há um poder que administra o direito da vida, do território e da cor.
Pouco antes de adentramos o mês de novembro, precisamente no dia 28/10/2025, o Brasil acordava com uma das cenas mais chocantes nas mídias digitais e canais abertos. O Estado do Rio de Janeiro realizou nos Complexos do Alemão e da Penha uma “megaoperação”, a mais letal do país, ocasionando desespero, pânico e violência, um cenário de guerra. A cena: mais de cem corpos enfileirados sobre o chão da praça da comunidade, a maioria homens jovens e negros.
Em nome de uma suposta “segurança pública”, o Estado age como um verdadeiro justiceiro, entra nas favelas, comunidades e vielas com atrocidade, causando um derramamento de sangue, violando todas as regras dos Direitos Humanos, não dando aos culpados o direito de serem julgados e condenados, permitindo o amplo direito de suas defesas.
Com as ações dessa “megaoperação”, têm surgido no clamor popular diversas maneiras de compreensões: há quem defende essas ações do Estado, contribuindo com a expressão: “bandido bom é bandido morto” e há os que destoam dessas ações, uma vez que, percebem a ineficiência da presença do Estado.
A banalização da violência, tem naturalizado a dor de tantas mães, recordo acima a citação de Carolina Maria de Jesus: “quero um dia sair desse lugar com os meus filhos”. A indignação é quando o choro dessas mães sobre os corpos frios e brutalmente assassinados de seus filhos são negligenciados e silenciados. Será que perdemos a empatia ao sofrimento dos outros? Não há em nós alteridade diante da dor? É necessário questionarmos este sistema que oprime, desagrega e mata. Cenas como essas demonstram: todos nós perdemos.
O que presenciamos é a brutal forma de desumanização na história. Em que práticas violentas são admissíveis por uma parte da população que pensa que “segurança pública” é a partir da ação violenta do Estado, permitindo assim uma legitimação à barbárie e promoção do racismo estrutural em nossa sociedade. A falta de acesso à educação contribui diretamente para tais pensamentos. E não o descontentamento da ação do Estado que não assegura as garantias de uma vida digna para todos os seus cidadãos. E aqui vale salientar as palavras do Papa Francisco em uma de suas homilias: “Quando você comemora a morte de alguém, o primeiro que morreu foi você mesmo” (2016).
Os corpos negros ainda no caminhar de suas histórias querem continuar a sua existência. Cada corpo tombado pela violência, requer de nós retomar a nossa ancestralidade que nos auxilia na compreensão de que existir não é apenas lutar para sobreviver.
Sim! Existimos, fazemos parte de um povo e somos um povo. Que saímos de nossos territórios para alcançar novos lugares, a nossa inserção nos espaços de poder e decisões; a entrada e permanência via políticas públicas no ingresso ao ensino superior; toda luta e resistência não é em vão. São determinantes e não podemos parar, por isso, nos fortalecemos quando aquilombamos. É preciso fortalecer, conhecer e permanecer. Ou seja, termos plenos conhecimentos de nossa negritude, cultura e cidadania. Para uma construção de uma sociedade antirracista.
Referências Bibliográficas:
Carneiro, Sueli – Dispositivo de racialidade: A construção do outro como não ser como fundamento do ser. 1° ed.Rio de Janeiro: Zahar, 2023.
Jesus, Carolina Maria de, – Quarto de despejo: diário de uma favelada. 10° ed. – São Paulo: África, 2014.
LISBOA, Dom Luiz Fernando Lisboa. Quando o cristão comemora a morte, o Evangelho se cala. CNBB, consulta realizada em 07 de novembro de 2025, às 09h14.https://www.cnbb.org.br/quando-o-cristao-comemora-a-morte-o-evangelho-se-cala/
Mbembe, Achille – Crítica da razão negra. 1° ed traduzido por Sebastião Nascimento. – São Paulo, 2018.
Nascimento, Abdias – O quilombismo: documentos de uma militância Pan-Africanista. 3° ed.- São Paulo, Editora Perspectiva; Rio de Janeiro, 2019.
Ribeiro, Djamila – Pequeno manual antirracista. 1° ed. – São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
[1] NASCIMENTO, Abdias- O Quilombismo 3.d, p.273
[2] JESUS, Carolina Maria de, Quarto de Despejo: diário de uma favelada, 1992, p. 188.
[3] Carneiro, Sueli, Dispositivo de Racialidade: A construção do outro como não ser como fundamento do ser, p.82, 2023