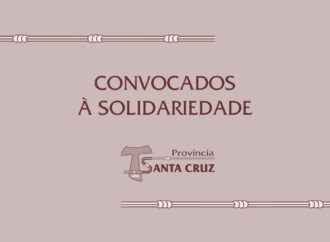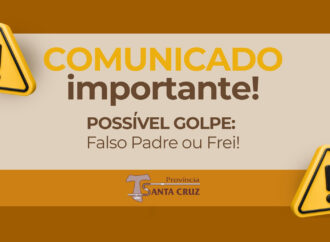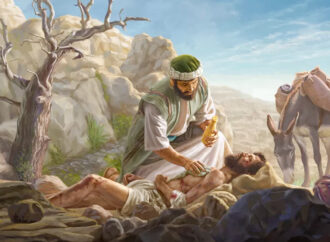A implementação da agenda da COP30 ocorre nesse palco de competição, onde o poder – econômico, tecnológico e geopolítico – é a moeda principal.
Frei Laércio Jorge, ofm[1]
Hoje, ao chegar à Universidade Federal do Pará [UFPA] para cumprir a agenda da COP30, deparei-me com uma instalação cuja imagem não me saiu da mente. Ela está retratada ao lado. A partir dela comecei a ponderar acerca de todos os povos que ali se reuniam em torno da questão do poder para promover ações frente à mudança climática.
A 30ª Conferência das Partes da Convenção‑Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) começou oficialmente nesta segunda-feira, 10/11/25, em Belém (PA), no coração da Amazônia, em um contexto de urgência climática sem precedentes. Os relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) são categóricos: a janela para conter o aquecimento global em 1,5°C acima dos níveis pré-industriais está se fechando rapidamente, exigindo transformações radicais e imediatas nos sistemas econômicos e energéticos globais (IPCC, 2023).
O conceito de “desenvolvimento sustentável”, central nas negociações, é definido como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades (CMMAD, 1987).
No entanto, a trajetória rumo à sua concretização esbarra em um obstáculo substancial e frequentemente subestimado: a dinâmica do poder internacional, pois, a arquitetura geopolítica global, baseada na soberania nacional e na competição por influência e recursos, constitui um impedimento crítico para a realização do desenvolvimento sustentável proposto pela COP30. As nações, em especial as mais poderosas, aderem à agenda verde desde que esta não reduza seu poder relativo ou suas garantias de supremacia, perpetuando, assim, diversas formas de desigualdade, como evidencia a ausência dos EUA nessas discussões.
A COP30 é uma conferência crucial para operacionalizar os mecanismos estabelecidos em COPs anteriores, como o Fundo de Perdas e Danos (COP27) e o balanço global do Acordo de Paris (COP28). Que o debate avance em temas como a aceleração da transição energética justa, a valoração econômica da biodiversidade, a regulação de mercados de carbono e a ampliação do financiamento climático para o Sul Global. O desenvolvimento sustentável, neste contexto, é repensado não apenas como uma questão ambiental, mas como uma reestruturação profunda da economia global, que deve ser socialmente inclusiva e de baixo carbono.
No entanto, esta visão pressupõe um nível de cooperação e abdicação de soberania que contrasta com a realidade do sistema internacional. Como observa Biermann (2014), a governança global fragmentada, composta por um regime complexo de tratados e instituições sobrepostas, reflete e reforça os interesses nacionais divergentes. A implementação da agenda da COP30 ocorre nesse palco de competição, onde o poder – econômico, tecnológico e geopolítico – é a moeda principal. Recordo-me de uma entrevista de Elke Maravilha ao programa ‘Deles’ (TV Brasil, 1990). Embora feita em outro contexto, sua afirmação sobre o poder ser ‘a pior droga que existe’ permanece atual:
“O poder é o que mais vicia e o que mais mata até hoje”.
A relutância em abrir mão de posições de poder manifesta-se em vários fronts das negociações climáticas, constituindo um desafio substancial para o desenvolvimento sustentável genuíno. As potências tradicionais e emergentes cujo poder está historicamente vinculado à exploração de combustíveis fósseis enfrentam um dilema profundo. Para países como Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita e China, a transição energética representa não apenas uma disrupção econômica, mas uma potencial erosão de sua influência geopolítica. O controle sobre petróleo e gás é uma ferramenta de poder há décadas (Stokes, 2020). Renunciar a esse trunfo em prol de uma matriz energética distribuída e renovável é percebido como uma concessão estratégica. Consequentemente,
observa-se uma maquiagem verde que pode ser traduzida como um ambientalismo de fachada ou estratégico, em que “discursos verdes” são adotados como “Verdades suspeitas e Mentiras relativas”, mas as políticas domésticas e a expansão da infraestrutura fóssil prosseguem, assegurando a manutenção de um “poder”, neste caso, o “poder energético”.
A transição para uma economia verde é intensiva em tecnologia – desde energias renováveis até baterias e veículos elétricos. O controle sobre essas tecnologias define o poder que gera os líderes desta nova economia. Países desenvolvidos, detentores de patentes e capital intelectual, buscam manter essa vantagem competitiva, frequentemente criando barreiras à transferência de tecnologia para nações em desenvolvimento. Paralelamente, a demanda por minerais críticos (lítio, cobalto, terras raras) necessários para esta transição desencadeia uma nova forma de “colonialismo verde”, onde países do Sul Global veem seus recursos serem explorados para sustentar a descarbonização do Norte, sem que os benefícios econômicos e tecnológicos sejam equitativamente compartilhados (Dunlap & Brock, 2022). Isso reproduz padrões históricos de exploração e desigualdade, sob um novo pretexto “sustentável”.
O financiamento é a arena onde a disputa por poder e a desigualdade são mais evidentes. A promessa dos países desenvolvidos de mobilizar US$ 100 bilhões anuais para o clima no Sul Global, feita em 2009, só foi cumprida com atraso e questionamentos sobre a transparência (Oxfam, 2022). A relutância em disponibilizar recursos financeiros adequados e não onerosos reflete uma priorização dos interesses nacionais imediatos sobre a solidariedade climática global. Acesso a fundos é poder: condicionalidades e a estruturação de dívidas verdes podem forçar países em desenvolvimento a adotar políticas que atendam mais aos interesses dos credores do que às suas próprias necessidades de desenvolvimento, restringindo sua autonomia política.
A insistência em salvaguardar o poder nacional em detrimento de uma ação coletiva robusta tem um custo direto: a perpetuação das desigualdades. Os países mais vulneráveis às mudanças climáticas, que menos contribuíram para o problema, são os que mais sofrem com a lentidão e a inadequação da resposta global. A lógica do poder garante que os custos da adaptação e os danos das catástrofes climáticas recaiam desproporcionalmente sobre os mais pobres, tanto entre nações quanto dentro delas (Roberts & Parks, 2009). O “desenvolvimento sustentável” corre o risco de se tornar um privilégio das nações ricas, capazes de investir em resiliência e tecnologias verdes, enquanto o Sul Global fica preso em um ciclo de vulnerabilidade e dívida, aprofundando o fosso da desigualdade global. Ou seja, o poder constituído com base na fragilidade do outro, como sugere instalação a Cathedra.
A COP30 tem o potencial de ser um marco na luta contra a mudança climática. No entanto, seu sucesso dependerá não apenas de avanços técnicos, mas da coragem política para enfrentar o elefante na sala: a geopolítica do poder. O desenvolvimento sustentável, em sua concepção mais pura, exige uma governança global mais equitativa e uma disposição de compartilhar poder – poder tecnológico, poder financeiro e poder de decisão. Enquanto as nações mais influentes abordarem as negociações climáticas como um jogo de soma zero, onde qualquer ganho coletivo é visto como uma perda relativa de soberania e influência, os acordos serão, na melhor das hipóteses, compromissos frágeis e insuficientes.
Superar o desafio substancial do poder requer uma nova ética de corresponsabilidade e justiça climática, que reconheça que a verdadeira segurança no século XXI não reside na supremacia nacional, mas na capacidade de cooperação para garantir um planeta habitável e equitativo para todos.
Só assim deixaremos de tratar o desenvolvimento sustentável como um slogan e o tornaremos uma base concreta para um futuro estável, superando as crises que herdamos e prevenindo outras ainda maiores.
Bibliografia
BIERMANN, F. Earth System Governance: World Politics in the Anthropocene. MIT Press, 2014.
CMMAD (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento). Nosso Futuro Comum. 1987.
DUNLAP, A.; BROCK, A. (Eds.). Enforcing Ecocide: Power, Policing & Planetary Militarization. Palgrave Macmillan, 2022.
IPCC – 20/03/2023. Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 2023.
OXFAM. Climate Finance Shadow Report 2022. Oxfam International, 2022.
ROBERTS, J. T.; PARKS, B. C. A Climate of Injustice: Global Inequality, North-South Politics, and Climate Policy. MIT Press, 2009.
STOKES, D. Short Circuiting Policy: Interest Groups and the Battle Over Clean Energy and Climate Policy in the American States. Oxford University Press, 2020.
[1] Frei Laércio Jorge, OFM. Graduado em Filosofia e Teologia pelo Instituto Santo Tomás de Aquino. Mestre em Ciências Sociais pela PUC-MG.
Imagem: CATHEDRA: das Verdades suspeitas e Mentiras relativas. Jardins da Universidade Federal do Pará. Autoria: acervo do autor em 11 novembro de 2025.